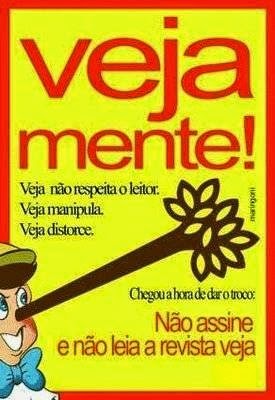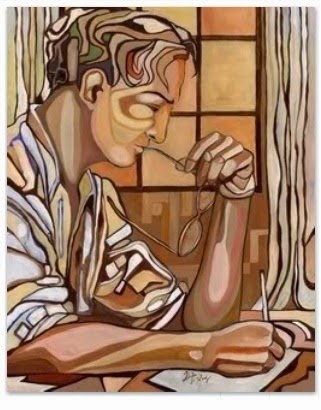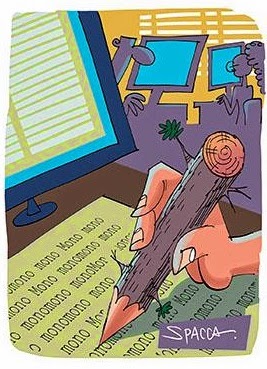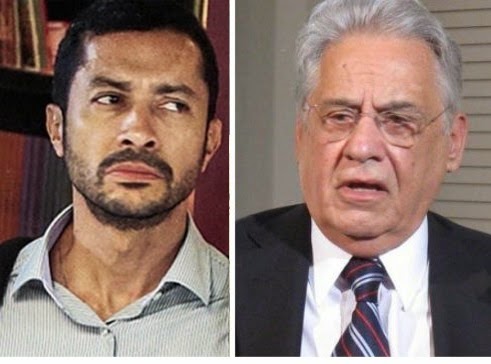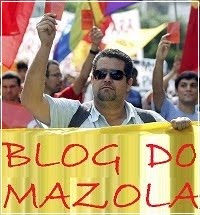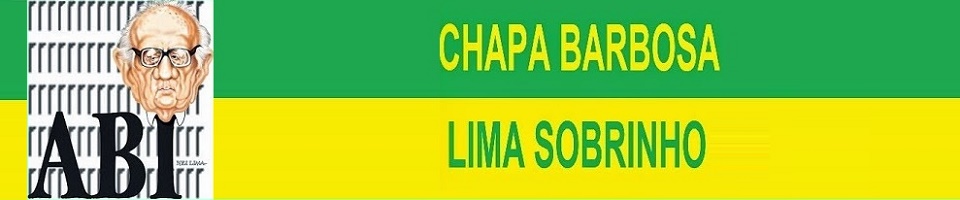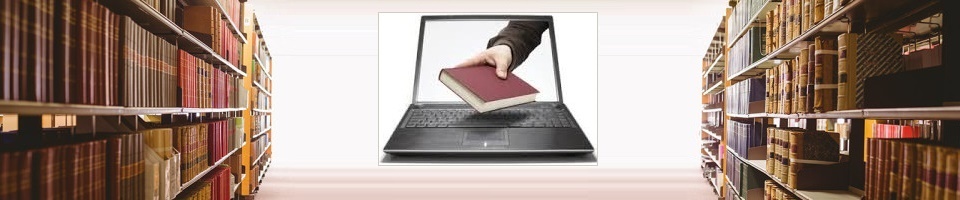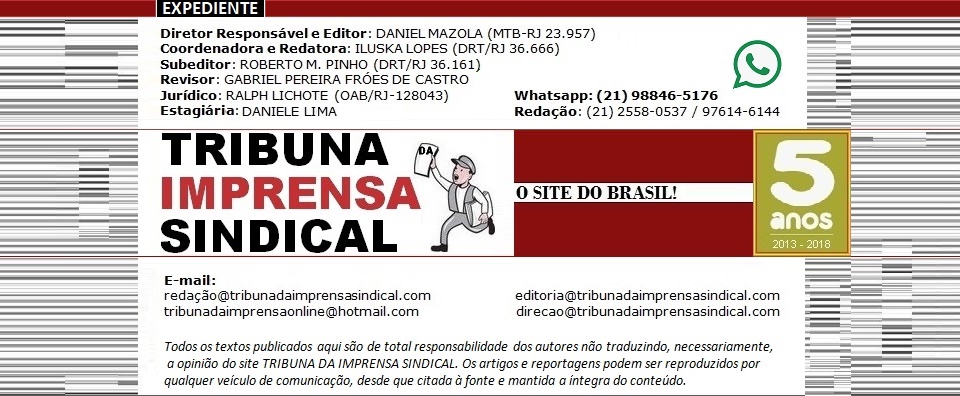Por ERICKA BECKMAN -  Via Le Monde Diplomatique Brasil -
Presidente e poeta? Para um cidadão moderno, a associação pode soar
incongruente. No fim do século XIX, as duas funções caminhavam juntas na
Colômbia. Se a palavra “Bogotá” era sinônimo de miséria
latino-americana, ela também evocava letras e literatura. Apelidada de
Atenas da América do Sul, a capital abrigava um grande número de
classicistas renomados, como Miguel Antonio Caro, o presidente
colombiano de 1892 a 1898.
Via Le Monde Diplomatique Brasil -
Presidente e poeta? Para um cidadão moderno, a associação pode soar
incongruente. No fim do século XIX, as duas funções caminhavam juntas na
Colômbia. Se a palavra “Bogotá” era sinônimo de miséria
latino-americana, ela também evocava letras e literatura. Apelidada de
Atenas da América do Sul, a capital abrigava um grande número de
classicistas renomados, como Miguel Antonio Caro, o presidente
colombiano de 1892 a 1898.
Particularmente estreito na Colômbia, esse vínculo entre o mundo das
letras e o da política se observa também em outros lugares, de
François-René de Chateaubriand (1768-1848) na França a Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832) na Alemanha. Na América Latina, contudo, essa
relação deu origem a um termo que sublinha o papel central dos homens de
letras em projetos de construção nacional: o letrado– que
designa a elite da região no século XIX. Capazes de escrever de
constituições a romances, de acordos diplomáticos a tratados de
gramática, os letrados ocupavam esferas cada vez mais distantes entre
si. E em um período de mudanças na história latino-americana.
Entre os anos 1850 e 1930, o subcontinente se integrou pouco a pouco ao
sistema econômico mundial. Em seus romances e poemas, os escritores
latino-americanos concebiam intrigas, personagens e imagens que
apresentavam entusiasmo por essas transformações. Em outras palavras,
essas ficções ofereciam discursos que legitimavam as artes e os
mecanismos de natureza mercantil.
É comum lembrar que o general colombiano Rafael Uribe Uribe inspirou o personagem do coronel Aureliano Buendía, do romance Cem anos de solidão,
escrito por Gabriel García Márquez. Mas às vezes se esquece que esse
militar – um letrado – exerceu outras funções, como a de advogado,
plantador de café e parlamentar. Em 1908, ele pronunciou um discurso de
cem páginas sobre a cultura da banana. Tanto na forma quanto no
conteúdo, o texto ilustra uma corrente da produção literária da época.
Logo no início de sua exposição, Uribe Uribe cita uma ode ao poeta e
homem de Estado venezuelano Andrés Bello, intitulada “Silva a la
agricultura de la zona tórrida” [Ode à agricultura da região tórrida
(1826)]. Escrito para promover a exportação de produtos
latino-americanos para os mercados europeus, o poema canta os méritos de
um fruto excepcional:
“E para você a bananeira
desmaia ao peso de sua doce carga;
a bananeira, a primeira
de muitas, concedeu belos presentes.
Providência às gentes
do Equador feliz”.1
Mais adiante, o general evoca a Bíblia, a literatura em sânscrito e o romance Paul et Virginie,
de Henri Bernardin de Saint-Pierre, para desenhar a perspectiva de um
futuro promissor ao redor da banana – não uma simples matéria-prima, mas
a “rainha das plantas”, “um fruto mítico”. Sem se referir ao sistema
econômico no qual se inscreve a produção nem aos trabalhadores
encarregados da colheita, Uribe Uribe se coloca na longa tradição de
escritores que entrelaçam estética e economia política para valorizar o
novo papel da América Latina na divisão internacional do trabalho. Seu
discurso repousa nos credos do liberalismo do fim do século XIX.
Associada à economia política de David Ricardo, a teoria das “vantagens
comparativas” convida cada país a se concentrar naquilo que lhe seria
“naturalmente” favorável. Para a América Latina, a vantagem estaria na
produção de matérias-primas e derivados agrícolas destinados aos
mercados europeus, como a banana.
Das promessas à realidade, contudo, existe um fosso que as obras de
ficção não são capazes de superar. Como haviam previsto as correntes
críticas ao liberalismo, os fantasmas nutridos pelo desenvolvimento das
exportações depararam com diversos obstáculos: crescimento das
desigualdades entre grandes proprietários de terra e trabalhadores
agrícolas, instabilidade causada pela dependência de economias
periféricas em relação ao centro europeu, depois norte-americano etc.2
A partir do fim do século XIX, grande parte das ficções se voltam à
descrição de futuros radiantes, como uma resposta literária às crises
financeiras.
Jornalista, Julián Martel (1867-1896) encarna o fenômeno da
profissionalização da escrita que ocorre nesse momento. Seu romance La Bolsa,
um clássico da literatura argentina do século XIX, nasceu em 1891 sob a
forma de folhetins publicados em um dos principais jornais do país.
Em 1890, o banco Barings, cuja sede era em Londres, passou por
dificuldades após uma operação de alto risco em Buenos Aires. Com a
possibilidade de afundar também o sistema financeiro britânico, o
estabelecimento obteve apoio de um grupo de investidores privados, mas o
PIB argentino caiu mais de 10% entre 1890 e 1891. Fortunas
desapareceram da noite para o dia, trazendo à tona o que Martel
descreveu como “prosperidade fictícia” em La Bolsa. Seu romance
culmina em uma cena memorável: um especulador arruinado é devorado vivo
por um monstro semelhante a uma medusa que proclama: “Yo soy la
Bolsa!”.
Apesar dessa dramatização das tendências destrutivas do sistema
financeiro internacional, Martel não enxergava nenhum futuro fora do
“mundo como ele é”. Em vez de denunciar o papel do capitalismo
britânico, atacava os alvos habituais: banqueiros judeus e mulheres
perdulárias. Em outras palavras, o autor desejava acreditar que, se
certos “sujeitos maus” fossem reeducados (ou eliminados), o modelo
liberal argentino poderia prosperar.
Dos poemas aos tratados econômicos
Seu contemporâneo, Machado de Assis se mostra mais incisivo no Brasil. O
grande romancista comenta com ironia a crise brasileira de 1890-1891,
conhecida pelo nome de Encilhamento. Cronista da imprensa da época,
zomba da fé dos especuladores, alegando, por exemplo, que todo fenômeno
financeiro tem “três explicações justas e uma falsa” e que é melhor
“acreditar em todas elas”. A zombaria se transforma em cinismo quando
Machado de Assis ataca a “ficção” do dinheiro em Esaú e Jacó
(1904), romance em geral lido como uma resposta ao Encilhamento. Machado
de Assis descreve um eldorado brasileiro onde as ruas são pavimentadas
não de ouro, mas de ações e obrigações que se reproduzem como os
escravos e “trazem dividendos infinitos”.
Ao longo dos anos, com a sucessão de crises, as ficções literárias
passam a construir imagens menos oníricas da modernização capitalista em
regiões periféricas. Advogado de formação, o colombiano José Eustasio
Rivera visita a região produtora de seringueiros, de onde vem a
borracha, a fim de solucionar um conflito fronteiriço entre a Colômbia e
a Venezuela. Os bons tempos das plantações ficaram para trás com o
deslocamento da produção mundial de seringueiras para a Malásia. Para
além da extraordinária opulência dos caciques da borracha, que acendiam o
cigarro com notas e enviavam a roupa para ser engomada na Europa, o
advogado impressionou-se com as condições de vida dos escravos indígenas
que realizavam a extração da preciosa sustância. Em seu romance La vorágine[O
turbilhão (1924)], no auge da borracha na Amazônia, Rivera denuncia a
cegueira dos letrados que o precederam: seu protagonista principal, um
poeta, penetra na selva cantando odes a uma natureza idealizada. E
encontra trabalhadores vítimas de ambições econômicas de exploradores
que, como eles, acabam por morrer não devorados pela Bolsa, como no
romance de Martel, mas pela selva do comércio.
A crise financeira de 1929 fragiliza o consenso no seio das elites. A
depressão econômica encoraja a adoção de modelos de crescimento
protecionistas fundados na industrialização (modelo de substituição de
importações). Em paralelo, o progresso da alfabetização, o crescimento
das classes médias e a circulação de ideias comunistas e socialistas
favorecem a emergência de novas vozes.
Os escritores continuam abordando a modernização da América Latina, mas
agora não são oriundos exclusivamente das classes privilegiadas. O
arquétipo do letrado liberal cede lugar ao do “escritor engajado”. Em
geral próximos aos ideais comunistas, esses autores denunciam a
exploração do continente pelas elites nacionais e estrangeiras. Pablo
Neruda, chileno que ganhou o Nobel de Literatura, escreveu um poema
intitulado “La United Fruit Co.” (1950), evocando a banana. Mas,
diferentemente de Uribe Uribe, Neruda apresenta a fruta como metáfora da
degradação do trabalhador:
“Uma coisa sem nome,
um número caído,
um cacho de fruta morta
derramado na podridão.”3
Aparece então um movimento literário que tira seu nome diretamente de
uma referência ao paradigma do século XIX: o “boom latino-americano”,
encarnado por Gabriel García Márquez, sem dúvida o autor mais célebre da
América Latina. Nascido em Ciénaga, vilarejo colombiano que abrigava os
bananais da United Fruit Co., Márquez foi influenciado pelos desgastes
sociais produzidos pelo modelo exportador. Se por um lado leitores
europeus e norte-americanos apreciam o sabor exótico de sua escrita, por
outro os livros de Márquez oferecem antes de mais nada uma reflexão
crítica sobre a herança dessa dependência. Sua obra-prima, Cem anos de solidão
(1967), relata a epopeia de um território bananeiro desde sua fundação
até seu literal desaparecimento da face da terra depois da retirada da
empresa exploradora. Outro romance, Outono do patriarca (1975), imagina uma nação do Caribe que não tem nada além do mar para vender.
Com o neoliberalismo do fim do século XX, os países latino-americanos
abriram novamente seus capitais estrangeiros e renovaram a estratégia
econômica com o mesmo entusiasmo de Uribe Uribe. Mas, ao contrário dos
séculos anteriores, essa política não procura mais a legitimação dos
homens de letras, e sim dos tratados de economia. De seu lado,
dirigentes escrevem menos poesias; elogios líricos sobre a banana, como o
de Bello, cedem lugar a textos como El ladrillo (O tijolo),
redigido pelos “Chicago boys” chilenos, que estabelece os fundamentos da
política de livre-comércio empreendida por Augusto Pinochet e cujo
título sugere toda sua delicadeza.
Se a literatura perdeu seu prestígio e sua capacidade prescritiva, os escritores não abandonaram a pluma. Em Impuesto a la carne[Imposto
sobre a carne (2010)], romance da chilena Diamela Eltit, uma mãe e sua
filha são vítimas de um sistema de mercantilização extrema e não têm
outro recurso além de vender seus próprios órgãos. Em 2666, o chileno Roberto Bolaño apresenta uma visão aterradora das maquiladoras do norte do México. O romance El año del desierto(2005),
do argentino Pedro Mairal – escrito depois da crise de 2001 –, conta o
naufrágio de setores financeiros em uma distopia em que o país inteiro
regride até qualquer traço de civilização ser engolido pelo deserto. Mas
o poder econômico não recorre a obras literárias para se legitimar: a
imprensa se encarrega disso.
*Ericka Beckman é autora de Capital fictions. The literature of Latin
America’s export age [Ficções capitais. A literatura latino-americana na
era das exportações], University of Minnesota Press, Minneapolis, 2013.
-----
1 - “Y para ti el banano/ Desmaya al peso de su dulce carga;/ El
banano, primero/ De cuantos concedió bellos presentes/ Providencia a las
gentes/ del Ecuador feliz” [as traduções são da redação].
2 - Sobre o mecanismo da dependência (“teoria da dependência”), ler
Renaud Lambert, “Le Brésil, ce géant entravé” [Brasil, esse gigante
entravado], Le Monde Diplomatique, jun. 2009.
3 - “Una cosa sin nombre/ un número caído/ un racimo de fruta muerta/ derramada en el pudridero”.